No tempo do livro
Quando se era «leitor» — e não, ainda, «usuário»
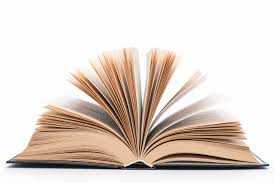 «(...) Para ler modernamente, dever-se-á usar um dos muitos leitores eletrônicos que já existem no mercado e que ainda vão surgir. Segundo uma notícia, um desses aparelhos possibilita que seu usuário (não é mais leitor, é usuário) interaja com as chamadas redes sociais na internet (...)»
«(...) Para ler modernamente, dever-se-á usar um dos muitos leitores eletrônicos que já existem no mercado e que ainda vão surgir. Segundo uma notícia, um desses aparelhos possibilita que seu usuário (não é mais leitor, é usuário) interaja com as chamadas redes sociais na internet (...)»
Ah, nem conto a vocês como era, fico com medo de acharem que estou mentindo. Mas sei que não estou, quando lembro o dia começando a se esgueirar por entre as frestas dos grandes janelões do casarão térreo em que morávamos, e eu, menino de oito ou nove anos, pulando afobado da cama, para mais uma vez me embarafustar pelo meio dos livros. Quase febril, ansioso como se o mundo fosse acabar daí a pouco, eu nem sabia com quem ia me encontrar e aonde viajaria, em nova manhã encantada. Não havia problemas para eu me embolar com os livros, porque eles não só estavam junto à minha cama, mas espalhados da cozinha ao banheiro, em estantes para mim altas como torres, algumas das quais tão pejadas que volta e meia estouravam, viravam cachoeiras de papel e vinham abaixo, dando a impressão de que as paredes e o chão se dissolviam em livros. Problema havia na escolha, porque nenhum deles era proibido por meu pai, a não ser, como muito depois ele me contou, os que ele queria que eu lesse, me escondendo sem saber que tinha caído num ardil. Podia ser mais um volume da coleção de Tarzan que eu já tinha lido praticamente toda e não acabava nunca, porque repetia os favoritos. Não, talvez o Dom Quixote, em dois tomos imponentes que eu mal conseguia sopesar e cheio de palavras portentosas que eu não compreendia e não ousava me esclarecer com o velho, porque já conhecia a resposta.
— Dicionário, jumento bípede — respondia ele. — E copie o verbete para me mostrar depois.
— O que é verbete?
— Dicionário, miolo ralo. E copie esse também.
As gravuras de Gustave Doré que ilustravam as desditas do engenhoso fidalgo, em imagens cheias de sombras e figuras desconhecidas, me metiam medo mas eram irresistíveis e, mesmo sem entender direito o que aquele livro tremendo me contava, eu sempre voltava a ele e muitas vezes me pilhei devaneando em meio a um descampado e diante de cata-ventos, na companhia de um magrelo em seu cavalo ainda mais magro e de um gordo em seu burrico. Mas eu podia preferir ingressar na Legião Estrangeira, relendo Beau Geste ou Beau Sabreur, que me deixavam com sonhos de me alistar assim que completasse vinte anos, para ir viver entre os lendários tuaregues e conquistar o amor da mais linda princesa do deserto. Ou podia ir para o Sítio do Picapau Amarelo.
Quando Monteiro Lobato, ainda hoje, para mim, um dos maiores escritores de todos os tempos, em qualquer lugar, morreu e seu enterro foi mostrado pela revista O Cruzeiro, demorei muito para acreditar. O sítio continuou a existir, do mesmo jeito que o pó de pirlimpimpim, a viagem ao céu, o saci-pererê e toda a mágica que o grande Lobato criou. Tanto assim que peguei um caderno e comecei a escrever novas aventuras de Narizinho, Emília e Pedrinho, até que meu pai olhou minha produção, disse que estava mal escrita, me chamou de plagiário e me mandou ver no dicionário o que isso queria dizer. Desisti da empreitada, mas persisti em escrever, para desgosto do velho, que até morrer lamentou que eu não fosse tabelião, como ele com toda a razão queria.
 Os outros meninos do bairro podiam não morar num mar de livros como eu ou, ainda menos, ter um pai igual ao meu, mas não eram muito diferentes. Jogávamos bola (eu, hoje craque do passado, era fominha), brincávamos de médico com as meninas, fazíamos tudo o que as crianças daquela época podiam fazer, mas todo mundo gostava de ler, porque ler representava a liberdade e a fantasia. Comentávamos nossos heróis, organizávamos empréstimos de livros e gibis e mentíamos esplendidamente, em tertúlias em que acreditávamos nas histórias dos outros, contanto que acreditassem nas nossas — era tudo a verdade de nossas imaginações. A vã memória não distingue mais entre o que eu contava e os outros contavam, mas isso não tem importância. Todos nós, afinal, voávamos com Peter Pan e Sininho e alguns de nós namoraram com a Wendy. Não houve um que não tivesse enfrentado piratas, descido ao fundo do mar, ficado invulnerável a qualquer arma ou invisível à vontade, decifrado códigos secretos, falado todas as línguas e vencido todas as guerras e batalhas. Para isso, não tínhamos mais que os livros, não precisávamos de mais que eles. Mas isso era naquele tempo. Hoje, como nos informam a toda hora, os livros estão mudando, aperfeiçoam-se cada vez mais.
Os outros meninos do bairro podiam não morar num mar de livros como eu ou, ainda menos, ter um pai igual ao meu, mas não eram muito diferentes. Jogávamos bola (eu, hoje craque do passado, era fominha), brincávamos de médico com as meninas, fazíamos tudo o que as crianças daquela época podiam fazer, mas todo mundo gostava de ler, porque ler representava a liberdade e a fantasia. Comentávamos nossos heróis, organizávamos empréstimos de livros e gibis e mentíamos esplendidamente, em tertúlias em que acreditávamos nas histórias dos outros, contanto que acreditassem nas nossas — era tudo a verdade de nossas imaginações. A vã memória não distingue mais entre o que eu contava e os outros contavam, mas isso não tem importância. Todos nós, afinal, voávamos com Peter Pan e Sininho e alguns de nós namoraram com a Wendy. Não houve um que não tivesse enfrentado piratas, descido ao fundo do mar, ficado invulnerável a qualquer arma ou invisível à vontade, decifrado códigos secretos, falado todas as línguas e vencido todas as guerras e batalhas. Para isso, não tínhamos mais que os livros, não precisávamos de mais que eles. Mas isso era naquele tempo. Hoje, como nos informam a toda hora, os livros estão mudando, aperfeiçoam-se cada vez mais.
Para ler modernamente, dever-se-á usar um dos muitos leitores eletrônicos que já existem no mercado e que ainda vão surgir. Segundo uma notícia, um desses aparelhos possibilita que seu usuário (não é mais leitor, é usuário) interaja com as chamadas redes sociais na internet. Suponho que se lê um pedacinho e se manda um comentário via Twitter. Também estarão disponíveis, em breve, livros com trilha sonora e com trechos narrados por voz. Os romances e peças virão com clipes dos cenários descritos pela narrativa, entrevistas com o autor, facilidade em substituir palavras difíceis por sinônimos acessíveis, interatividade com o usuário («faça seu final, case Romeu com Julieta») — o céu é o limite.
Acredito que, em relação a isso, vale uma comparação com o celular, o qual começou como telefone, mas hoje é máquina fotográfica, batedeira de bolos e ferro de passar e desconfio que está substituindo o(a) parceiro(a) sexual. Admirável livro novo, que faz uma maravilha atrás da outra e nem puxa pela imaginação, tudo já vem imaginado para você. Espero que, tão famosamente equipado, o usuário ainda encontre um tempinho para ler.
Crónica do escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro (1941 – 2014), publicada originalmente no jornal O Globo.



