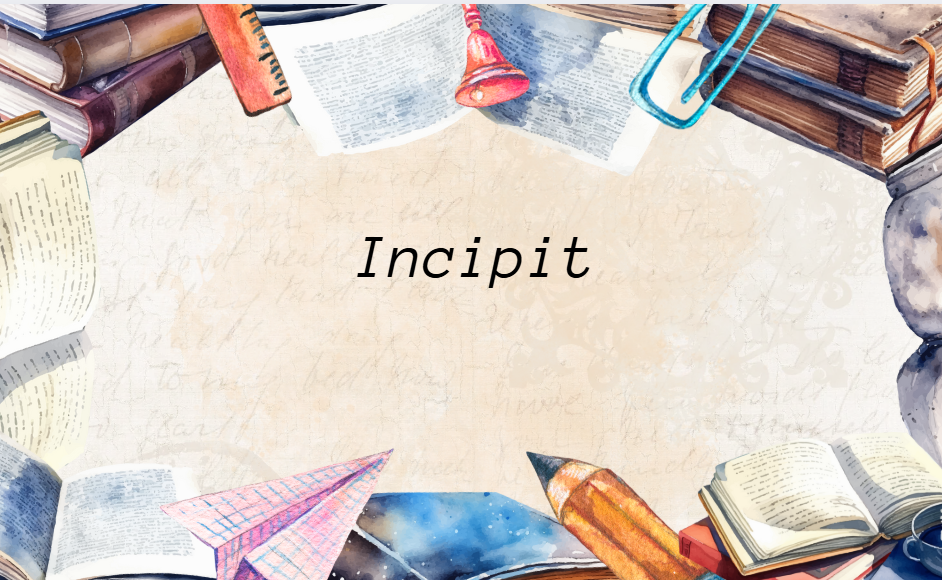Textos publicados pela autora
Comparação: «como se uma invisível cortina os separasse»
Pergunta: Gostaria de saber se na frase «Só que agora quase não conversavam, era como se uma invisível cortina os separasse», retirada da obra O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, também podemos aceitar que existe uma metáfora?
Efetivamente, há uma comparação e penso que será só este recurso. Do meu ponto de vista, a expressão «era como» estabelece a comparação, que dá ênfase ao silêncio e ao afastamento que havia entre os dois seres («invisível cortina»).
Muito obrigada pela atenção.Resposta: Na frase em apreço, está...
A expressão «meio-dia e meia» II
Pergunta: Já vi o tema «meio-dia e meio» debatido noutros sítios, inclusive pelo Sr. José Neves Henriques e pela Sra. Carla Marques, mas não fiquei convencido com os argumentos usados.
Vou tentar expor a minha visão da melhor maneira.
Meio-dia designa uma hora específica: 12h00. A «hora 12» é feminino, o «meio-dia» é masculino; são sinónimos. Não é o único exemplo na língua portuguesa de uma palavra masculina composta por justaposição que designa algo feminino.
Eis outros exemplos: um...
O uso preposicional de fora
Pergunta: Com o mesmo sentido de «Exceto isso», devemos escrever «Fora disso» ou «Fora isso»?
Obrigado.Resposta: Trata-se do uso preposicional de fora, a que não se associa outra preposição, conforme se regista em vários dicionários, designadamente no dicionário da Academia das Ciências de Lisboa:
«fora preposição antes de grupos nominais, pronomes ou frases infinitivas, indica: 1. exceção, restrição sinónimos exceto; menos; salvo Todos comparticipavam nas...
Emendar e substituir
Pergunta: Gostaria de saber qual o grau de correção das seguintes frases:
«Ele emendou "cada" para "casa"»;
«Ele emendou "cada" em "casa"»;
«Ele emendou "cada" com "casa"».
Muito obrigado!Resposta: Nenhuma das expressões corresponde ao uso normativo do verbo emendar.
O verbo emendar é usado como transitivo direto1, pedindo, assim, um constituinte com a função de complemento direto. Diremos:
(1) «Ele emendou o texto.»
(2) «Ele emendou as peças da...