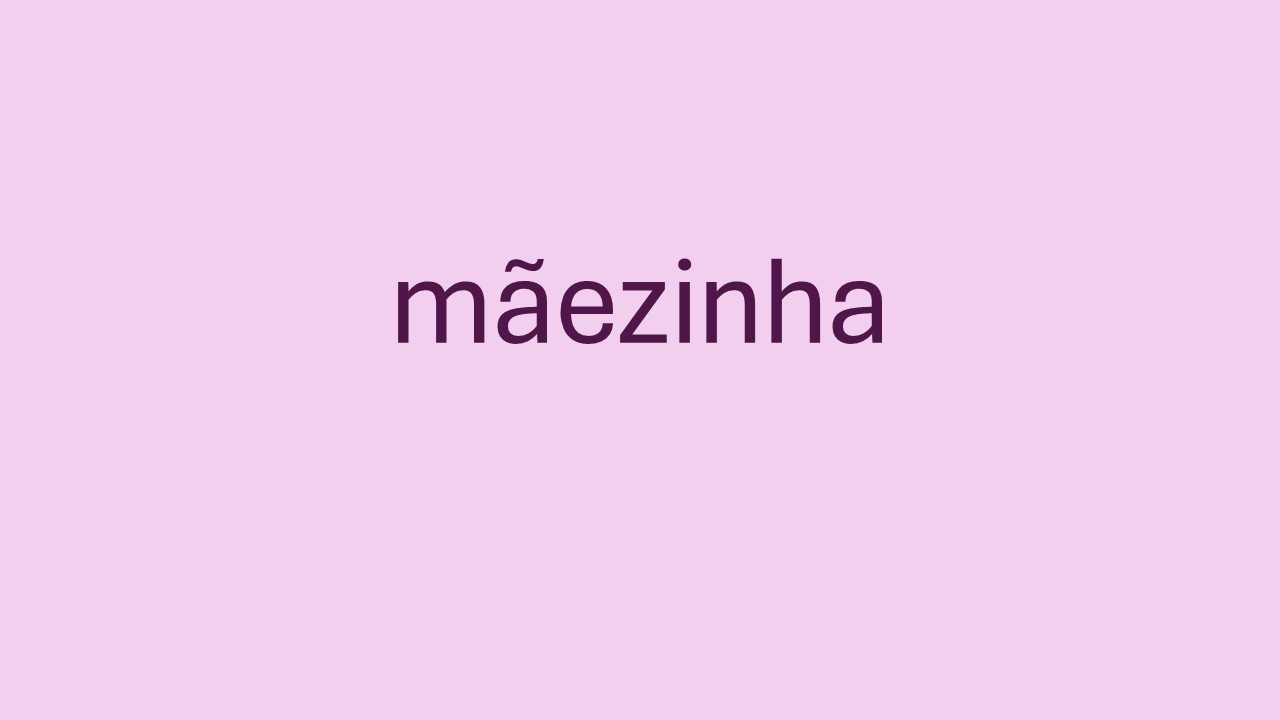Textos publicados pela autora
A classificação do Sermão de Santo António aos Peixes
Pergunta: Como se pode classificar o "Sermão de Santo António aos Peixes"?
Pergunto isto porque, estou na dúvida entre três aspetos, nomeadamente: o texto é um sermão, é uma alegoria e é um texto argumentativo. Como tal, qual ou quais das opções será a que classifica corretamente este texto?
Obrigado.Resposta: Todas as classificações são possíveis e estão corretas. A diferença entre elas está relacionada com o ponto de vista adotado para efetuar a classificação.
No âmbito do discurso religioso, o texto pertence ao género...
Modificador do grupo verbal: «foi arrancado à noite»
Pergunta: Na frase «Ele foi arrancado de casa À NOITE», confirma-se que o segmento destacado corresponde a um modificador do grupo verbal?
Agradecia o vosso esclarecimento.Resposta: Com efeito, o constituinte «à noite» desempenha a função sintática de modificador (do grupo verbal).
A frase transcrita em (1), que se encontra na forma passiva, tem como forma ativa a frase (2)
(1) «Ele foi arrancado de casa à noite.»
(2) «[O João]1 arrancou-o de casa à noite.»
O verbo arrancar não pede como argumento um...
«Estive a ler» (perfeito) vs. «estava a ler» (imperfeito)
Pergunta: Podia dizer-me a diferença entre «estive a ler durante 2 horas» e «estava a ler durante 2 horas», do ponto de vista do significado?
Para mim, são frases idênticas, porque na combinação de «estar a» + infinitivo há um aspeto de continuidade e, embora estive não seja um verbo na forma do imperfeito («estive a» infinitivo), a frase tem um sentido de duração, pois o verbo não precisa de estar na forma do imperfeito para transmitir a continuidade da ação.
E, formulando a questão de outra forma:
1. Estava a...
Uso de lhe e de «a si»
Pergunta: Eu queria saber qual das frases está correta:
1. Ele cuidou que o décimo terceiro trabalho lhe tinha chegado.
2. Ele cuidou que o décimo terceiro trabalho a si tinha chegado.
Obrigado.Resposta: Ambas as frases estão corretas uma vez que, neste contexto, é possível usar tanto o pronome lhe como o pronome si.
O verbo chegar pode ser usado como transitivo indireto, construindo-se com um complemento preposicional, como em (1)
(1) «Os alunos chegaram à escola.»
Este...