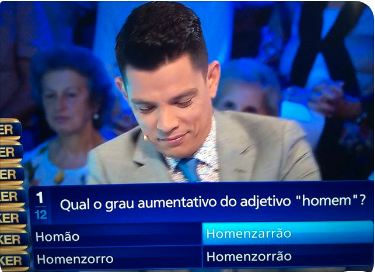Textos publicados pela autora
O verbo humildar-se
Pergunta: Gostaria de saber se humildar ainda existe. Caso exista, qual o seu contexto [de uso]?
Obrigada.Resposta: O verbo humildar está atestado com o significado de «tornar-se ou mostrar-se humilde; humilhar-se; submeter-se ou sujeitar-se» (dicionário de língua portuguesa da Infopédia). Este verbo, que é reflexivo, ou seja, necessita dos pronomes reflexivos, tem uso pouco corrente, sendo mais corrente o verbo humilhar-se e a...
O plural de jóquer
Pergunta: Gostaria de saber se a palavra jóquer é flexionável em número e, caso seja, qual a forma correta de pronunciar esse plural.
Muito agradeço a atenção e a disponibilidade.Resposta: O substantivo masculino jóquer – a forma aportuguesada do inglês joker – flexiona-se em número: jóqueres.
Em relação à pronúncia do substantivo, este deve pronunciar-se com o (em jó)...
A formação do adjetivo inadiável
Pergunta: Numa ficha de trabalho, foi pedido para referir o processo de formação de palavras do vocábulo inadiável. Esta palavra é derivada por sufixação ou por parassíntese?
Obrigado pela ajuda.Resposta: O adjetivo de dois géneros inadiável – «que não se pode adiar; improrrogável; impreterível; urgente (dicionário de língua portuguesa da Infopédia) – é formado por prefixação: ao adjetivo...
Manejável e maneável
Pergunta: Maneável, ou manejável? Qual a diferença?
Obrigado.Resposta: Os adjetivos em apreço, maneável (manear + vel) e manejável (manejar + vel), são sinónimos, quando lhes está subjacente a aceção «passível de ser maneado ou manejado» – «temos de ensinar os jovens a manejar/manear o seu dinheiro» –, ou, em...