e oração explicativa Pergunta: Perante as seguintes frases, não entendo porque a primeira é identificada como verdadeira e a segunda falsa. 1.ª «Estás constipado, pois não paras de espirrar!» 2.ª «Ele espirrava muito, pois estava constipado.» Agradecendo a atenção, aguardo resposta.Resposta: Não temos indicação do quadro no qual se deve processar a interpretação das frases apresentadas, pelo que nos cingiremos a uma análise no quadro da articulação entre orações. Neste plano, na frase (1), a oração «pois não paras de espirrar» é uma...
Textos publicados pela autora
Valor de verdade
e oração explicativa Pergunta: Perante as seguintes frases, não entendo porque a primeira é identificada como verdadeira e a segunda falsa. 1.ª «Estás constipado, pois não paras de espirrar!» 2.ª «Ele espirrava muito, pois estava constipado.» Agradecendo a atenção, aguardo resposta.Resposta: Não temos indicação do quadro no qual se deve processar a interpretação das frases apresentadas, pelo que nos cingiremos a uma análise no quadro da articulação entre orações. Neste plano, na frase (1), a oração «pois não paras de espirrar» é uma...
e oração explicativa Pergunta: Perante as seguintes frases, não entendo porque a primeira é identificada como verdadeira e a segunda falsa. 1.ª «Estás constipado, pois não paras de espirrar!» 2.ª «Ele espirrava muito, pois estava constipado.» Agradecendo a atenção, aguardo resposta.Resposta: Não temos indicação do quadro no qual se deve processar a interpretação das frases apresentadas, pelo que nos cingiremos a uma análise no quadro da articulação entre orações. Neste plano, na frase (1), a oração «pois não paras de espirrar» é uma...
«Bolo de laranja» e «notícias dele»
Pergunta: Tenho uma grande dúvida relativa ao complemento determinativo.
A minha professora deu-nos um powerpoint no qual dá dois exemplos que eu não compreendi.
Um deles é "O bolo de laranja estava muito bom", sendo dito que "de laranja" é complemento determinativo. Não seria aposto, já que está a completar o sentido do nome?
O outro é "Ninguém teve notícias dele" e é dito que "dele" é complemento determinativo. Não seria complemento direto?
Muito obrigada!Resposta: «Complemento determinativo» é uma...
A forma verbal diga
Pergunta: O uso de "diga" ou "diga-me"/"diga se faz favor" etc no contexto de serviços é considerado correto ou errado? Equivale a boa ou má educação?
Quando estamos numa fila e chega a nossa vez, é costume ouvir da parte do prestador de serviços ''diga"/"diga se faz favor"/etc
Ouvi hoje que há quem considere este "diga" má educação...
Questiono-me o que deverão dizer em vez de "diga" e o que não seria má educação?
Existe alguma regra de etiqueta aqui ou isto é uma diferença regional? Pessoalmente, na maior parte das vezes...
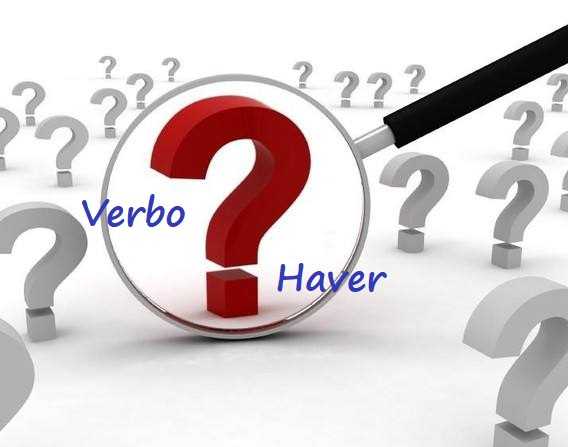 Haver impessoal
Haver impessoal
Uma questão de concordância
A identificação da frase correta entre as frases «Promessas terrenas, não as havia» e «Promessas terrenas, não as haviam» leva a professora Carla Marques a analisar os usos impessoais do verbo haver. Apontamento incluído no programa Páginas de Português, na Antena 2, no dia 15 de outubro de 2023....
«Mesmo de», «mesmo que»
Pergunta: "Cabe destacar que os juízes da mesma nacionalidade de qualquer dos contendores, embora conservem o direito de atuar, podem declarar-se ou ser declarados impedidos de julgar uma causa. "mesma nacionalidade DE" ou "mesma nacionalidade QUE"? Muito obrigado!Resposta: No caso em apreço, será preferencial a opção pela preposição de, mas note-se que nem todos os falantes poderão ter a mesma sensibilidade perante este facto linguístico para o qual não encontrámos descrição nas fontes...



