Textos publicados pela autora
Arrogar e gostar + pronome se
Pergunta: Nas frases:
«Ela se arroga essa liberdade.» – o vocábulo se é objeto indireto.
«Eles se gostam.» – o vocábulo se é complemento relativo.
Qual a diferença entre objeto indireto para complemento relativo?
Obrigado.Resposta: A função sintática desempenhada pelo pronome se depende da estrutura argumental do verbo com o qual ele ocorre. Deste modo, se pode desempenhar diferentes funções sintáticas, tal como se ilustra nas...
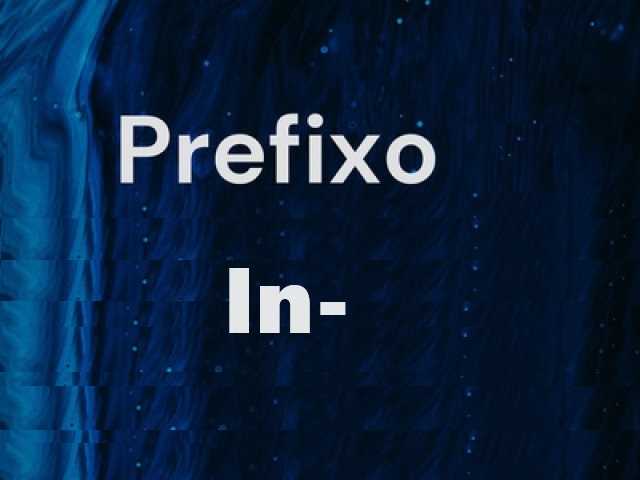 O prefixo in-
O prefixo in-
As formas variáveis do prefixo
Terá o prefixo in- mais do que uma forma? Esta é a questão que a professora Carla Marques trata no seu apontamento, partindo das palavras irracional e indispensável. Apontamento incluído no programa Páginas de Português, na Antena 2, no dia 1 de outubro de 2023....
Complexo verbal com dois verbos auxiliares
Pergunta: Encontrei a seguinte frase:
«Este ano iremos poder contar com a presença de profissionais (…).»
Questiono-me se esta conjugação verbal está correta.
Verbo ir no futuro + infinitivo + infinitivo ?
Penso que ficaria melhor «poderemos contar» ou contaremos, mas queria uma justificação.
Obrigada.Resposta: O constituinte «iremos poder contar» é um complexo verbal constituído por dois verbos auxiliares (ir e poder) e por um verbo...
Concordância: «A equipa da empresa... o nosso colega»
Pergunta: A minha questão é referente à regência e/ou concordância da palavra equipa em número.
Fiz uma publicação de necrologia e a mensagem era «A equipa da empresa Y comunica com pesar e consternação o falecimento da Sra. X, mãe da esposa do nosso colega Z».
Entretanto, o jornal alterou para «A equipa da empresa Y comunica com pesar e consternação o falecimento da Sra. X, mãe da esposa do seu colega Z». Esta alteração suscitou debate e essa dúvida sobre se a primeira mensagem estava incorrecta.
Agradecia...
O uso de pesar quando significa «sentir mágoa»
Pergunta: Por favor, dada a frase: «Pesa-me dos dissabores que lhe causei.»
Qual o sujeito do verbo pesa?
Qual a função sintática do termo «dos dissabores»? Qual a função sintática do termo me? Qual o objeto direto do verbo causei?
Se a frase fosse assim : «Pesam-me os dissabores que lhe causei.»
O que mudaria?
Grato.Resposta: De acordo com Celso Luft, o verbo pesar com o sentido de «causar mágoa ou pesar» é transitivo indireto:1
(1)...



