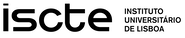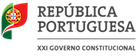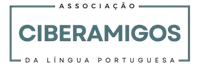Pergunta:
Qual é a regência do verbo mentir?
Obrigado!
Resposta:
Tendo em conta a presença e o tipo de complementos, o verbo mentir1 é:
a) intransitivo – «Ela mentiu.»
b) transitivo indirecto – «Ele mentiu ao juiz.»
Como se vê em b), o verbo em causa pode seleccionar um complemento indirecto introduzido pela preposição a; do ponto de vista da gramática tradicional, dir-se-ia que esta é a regência do verbo. Note-se, porém, que este complemento surge eventualmente realizado pela forma de dativo dos pronome pessoal («ele mentiu-lhe»), o que indica tratar-se de um complemento indirecto (ver Dicionário Terminológico). Sendo assim, não é habitual falar-se de regência a respeito deste tipo de complemento, antes se aplicando esse termo aos complementos oblíquos, isto é, àqueles que, introduzidos por preposição, não admitem a substituição pelo pronome dativo, como é o caso de assistir em «assistiu à aula», que não permite *«assistiu-lhe».
1 Fontes consultadas: Winfried Busse, Dicionário Sintáctico de Verbos Portugueses, Coimbra, Livraria Almedina, 1994; Mário Vilela, Dicionário do Português Básico, Lisboa, Edições ASA, 1991.