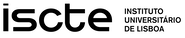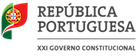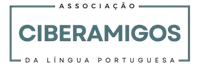Pergunta:
Gostaria de saber como fica a utilização do hífen em pospositivos de origem tupi, como -mirim e -guaçu, com o novo acordo ortográfico. Exemplos: moji-mirim, moji-guaçu, biritibamirim, embu-mirim, embu-guaçu, apiaí-mirim, barueri-mirim, capivari-mirim, baquirivu-guaçu, jacaré-guaçu, taquari-guaçu, taquari-mirim, supucaí-mirim, etc.
[Notem, todavia, que] não estou interessado no uso feito pelos topônimos, que, em geral, não observam regra alguma. Gostaria de saber qual seria a regra correta, tanto a antiga quanto a moderna, para esses casos, quando consideramos esses substantivos meras palavras (ainda que não sejam observadas). Ou seja, se a palavra anterior termina em sílaba tônica, ou em determinada vogal, o uso seria, obrigatoriamente, com hífen ou tudo junto, a partir de agora? Segue minha pergunta anterior novamente (removi as letras maiúsculas para não pensarem que se trata de topônimos).
Obrigado.
Resposta:
Com os pospositivos -açu, -guaçu e -mirim, mantêm-se as condições de uso do hífen previstas pela anterior norma ortográfica. Assim:
1. No Vocabulário Ortográfico de 1943, Base IV, 4.º, determinava-se o seguinte1:
«Nos vocábulos formados por sufixos que representam formas adjetivas como açu, guaçu e mirim, quando o exige a pronúncia e quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada gràficamente: andá-açu, amoré-guaçu, anajá-mirim, capim-açu, etc.»
2. No novo Acordo Ortográfico, na Base XVI, 3.ª, mantém-se o mesmo critério: «Nas formações por sufixação apenas se emprega o hífen nos vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani que representam formas adjetivas, como açu, guaçu e mirim, quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente ou quando a pronúncia exige a distinção gráfica dos dois elementos: amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu, capim-açu, Ceará-Mirim.»
Isto não impede que existam formas aglutinadas, quer em nomes próprios (topónimos), quer em substantivos comuns: Biritibamirim (São Paulo), Mojimirim (São Paulo), acará-açu/acarauaçu/acarauçu/acaraçu2 (cf.